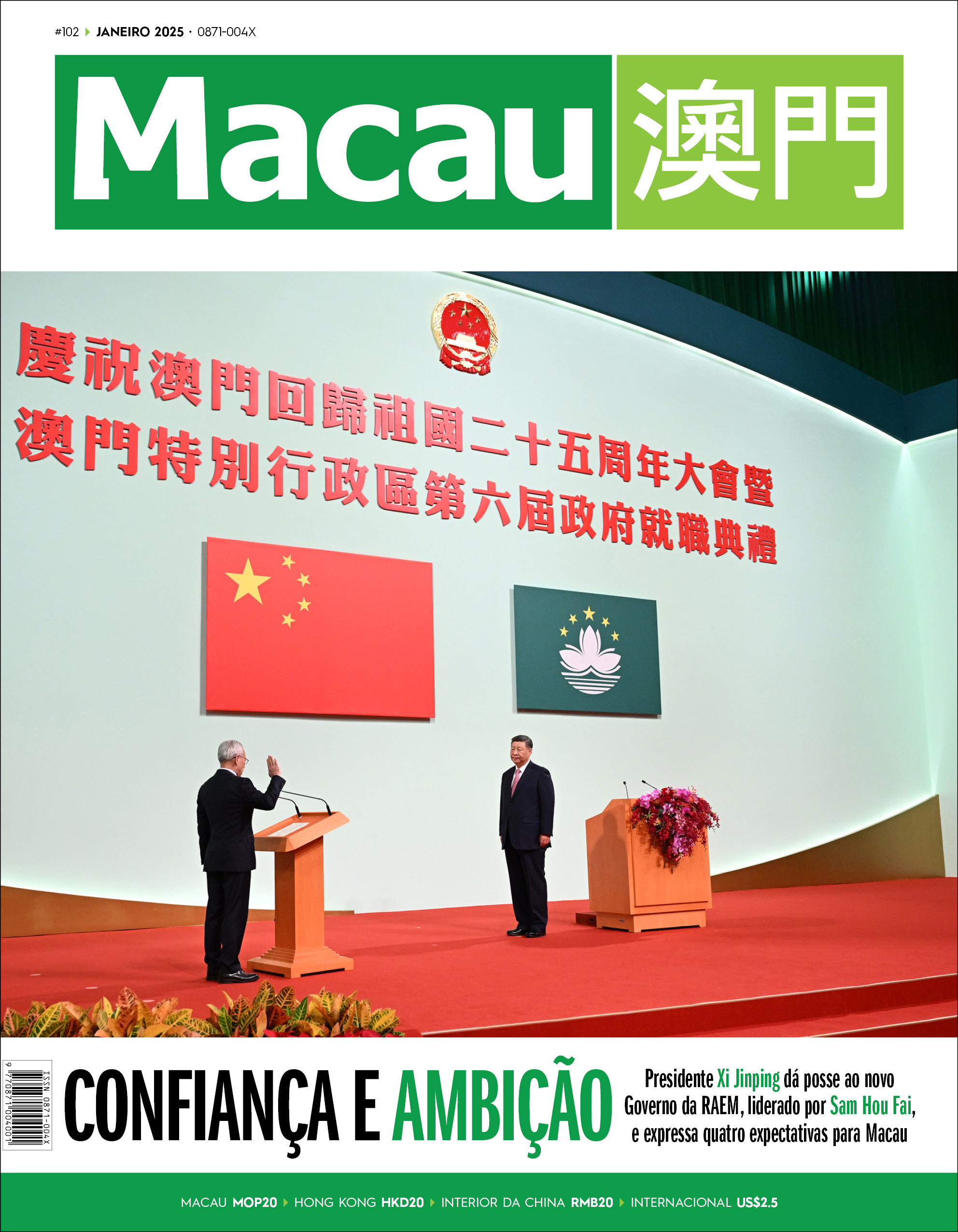Texto Ana Paula Dias
Território multiétnico a partir da sua formação, Macau foi, desde cedo, um referente geográfico-cultural que serviu de pano de fundo para a produção de inúmeros textos ficcionais, históricos e etnográficos. Talvez a presença literária portuguesa no Extremo Oriente e a história literária do fascínio pela longínqua Macau remonte à passagem de Fernão Mendes Pinto pela cidade, em 1555, ou à celebrada tradição da estadia de Camões no burgo, que faz parte da sua mitologia e que, por sua vez, ela própria é motivo literário. O exemplo do escritor holandês J. Slauerhoff, que em 1932 publicou um romance no qual Camões e Macau surgem como protagonistas, ilustra o apelo global que se consubstanciou num sem número de escritos dos que por aqui passaram ou daqueles que se achegaram a esta terra unicamente no papel. Também Garrett já se apropriara deste tópico e lhe atribuíra um valor poético imprescindível no seu poema lírico-narrativo Camões.
Abundam, entre os séculos XVI e XIX, descrições da Cidade do Nome de Deus da China, memoriais, relatórios, cartas de jesuítas e não só, crónicas, diários, ensaios, testemunhos de amor… A curta visita de Bocage a Macau deixa marcas na obra do escritor em elegias dedicadas às macaenses, “senhoras de grande linhagem e de grande beleza” e em sonetos (embora o poeta não se mostrasse seduzido pela cidade, como o testemunha um deles[1]). A também curta passagem de Venceslau de Moraes por Macau, um dos mais importantes escritores europeus orientalizados, deu origem a textos incluídos num dos seus mais conhecidos livros[2].
Textos de três dos maiores escritores da literatura portuguesa – Alexandre Herculano, Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco[3] (dos dois primeiros textos de intervenção e do último uma crónica) – referem analogamente Macau. A relação conturbada com Macau e a com a cultura chinesa de Camilo Pessanha determinou uma abordagem original no que toca ao tratamento de alguns topoi, que está patente na sua poesia e prosa. Dialogia, tradição e ideologia convergem nesses textos que, mesmo escritos há quase um século, não perderam a elegância das suas proposições. António Rebordão Navarro viria, mais tarde, a escrever-lhe a biografia reinventada.
Manuel da Silva Mendes foi contemporâneo de Pessanha e colaborou em vários jornais (A Vida Nova, Jornal de Macau, Pátria) e revistas da época (O Oriente, Revista de Macau). As suas crónicas mais representativas da cidade foram coligidas por Graciete Batalha em Macau, Impressões e Recordações (1979).
O romance, a novela, o conto e a poesia tendo Macau por palco são praticados, sobretudo a partir do século XX, por portugueses e macaenses como Emílio de San Bruno (considerado por alguns como precursor da literatura policial portuguesa[4]), Francisco de Carvalho e Rêgo (também com um romance policial[5]), Ruy Santelmo, Luis Gonzaga Gomes, Maria Anna Tamagnini, Ernesto Leal, Miguel Torga, Joaquim Paço d’Arcos, Maria Ondina Braga. Em Ferreira de Castro há um capítulo dedicado à sua estadia na cidade.
Deolinda da Conceição, José dos Santos Ferreira, Henrique de Senna Fernandes (destaquem-se Nam Van – Contos de Macau, Amor e Dedinhos do Pé e A Trança Feiticeira, estes dois últimos adaptados para o cinema) são os nomes grandes da literatura macaense[6] e, tendo nascido e vivido na cidade, de alguma forma a personificação da Macau do século XX. Altino do Tojal, Alice Vieira, António Torrado, Eugénio de Andrade, João Aguiar, Rodrigo Leal de Carvalho – e a extensa lista poderia prolongar-se – são outros tantos que vêm desmentir a ficção histórica dos versos de José Jorge Letria, “Aqui em Macau não há homens de letras,/ só piratas, clérigos e soldados”.
Do lado chinês, a presença de Macau na literatura remonta igualmente ao século XVI. Testemunha-o Tang Xianzu, célebre dramaturgo da dinastia Ming, que lhe dedica quatro poemas e um episódio da sua famosa peca, O Pavilhão das Peónias, com a cidade por cenário. Da interação entre as culturas chinesa e portuguesa ao longo dos 300 anos que se seguem resulta uma vasta produção poética por parte de oficiais e intelectuais da China continental que se deslocavam a Macau, poesia esta recolhida em dois volumes por Zang Wenqin. A poesia de Wu Li e a de Li Xiliang, por exemplo, reflete (sobre) as diferenças culturais que coexistem na cidade. No início do século XX, o poeta e patriota Wen Yiduo, traduzindo o espírito da época, escreve um longo poema, A Canção dos Sete Filhos, em que manifesta o desejo de reintegração do território na China – e que mais tarde será cantado pela jovem Rong Yunlin para celebrar a transferência de soberania, em 1999.
A partir dos anos 80 o campo das letras do Território assistiu a publicação de várias antologias de poesia e prosa e de obras de ficção em que Macau marca presença, como Primavera Plena de Chang Zheng, Árvore de Amor e Nuvem e Lua de Lin Zhouying, Amor Errado de Zhou Tong, Antologia de Contos de Macau (compilada por Yi Gang) e Nevoeiro no Coração, uma colecção de minicontos da Wai Ming e de outros contistas locais, apenas para citar algumas. Em janeiro de 1985, foi editada a primeira coleção das obras literárias Coleções das Produções Literárias de Macau, compiladas em cinco volumes pelo Dr. Yun Weili (com o pseudónimo Yun Li). Das coleções acima mencionadas, fazem parte as coletâneas poéticas Mar Lingding de Han Mu, Deserto Sem Fim de Yun Li, as antologias coletivas Folhas aos Pares e Três Cordas Musicais (poesia e prosa, respetivamente).
Quer na viragem do século, quer já no século XXI, a publicação de obras como Antologia de Novos Poemas de Macau, organizada pelo poeta Zheng Weiming, a Antologia de Poetas de Macau, cuja selecção e organização esteve a cargo de Jorge Arrimar e Yao Jingming, a Antologia de Poesia Contemporânea de Macau, da responsabilidade do Professor Guanding ou As alucinações de Ao Ge, de Lio Chi Heng, escrito em e sobre Macau, traduzido para francês e adaptado para o cinema (Diago, realizado por Chi Zang em 2010), são apenas alguns dos exemplos que prosseguem a dinâmica de criação literária nesta cidade onde a realidade fecunda e promissora se constitui como fonte de inspiração continuada para poetas e ficcionistas.
[1] Soneto n.º 196 in Bocage, Obra Completa, 1º vol. Sonetos, Porto, Edições Caixotim, 2004
[2] Traços do Extremo Oriente.
[3] «Madame de Paiva» in Boémia do espírito, Camilo Castelo Branco, 4ª ed., Porto, Lello & Irmão Editores, 1959.
[4] O caso da rua Volong.
[5] O caso do tesouro do templo de Á-Má.
[6] Embora haja quem defenda que o termo literatura macaense não se aplica, por macaense ser mais a temática do que a autoria.